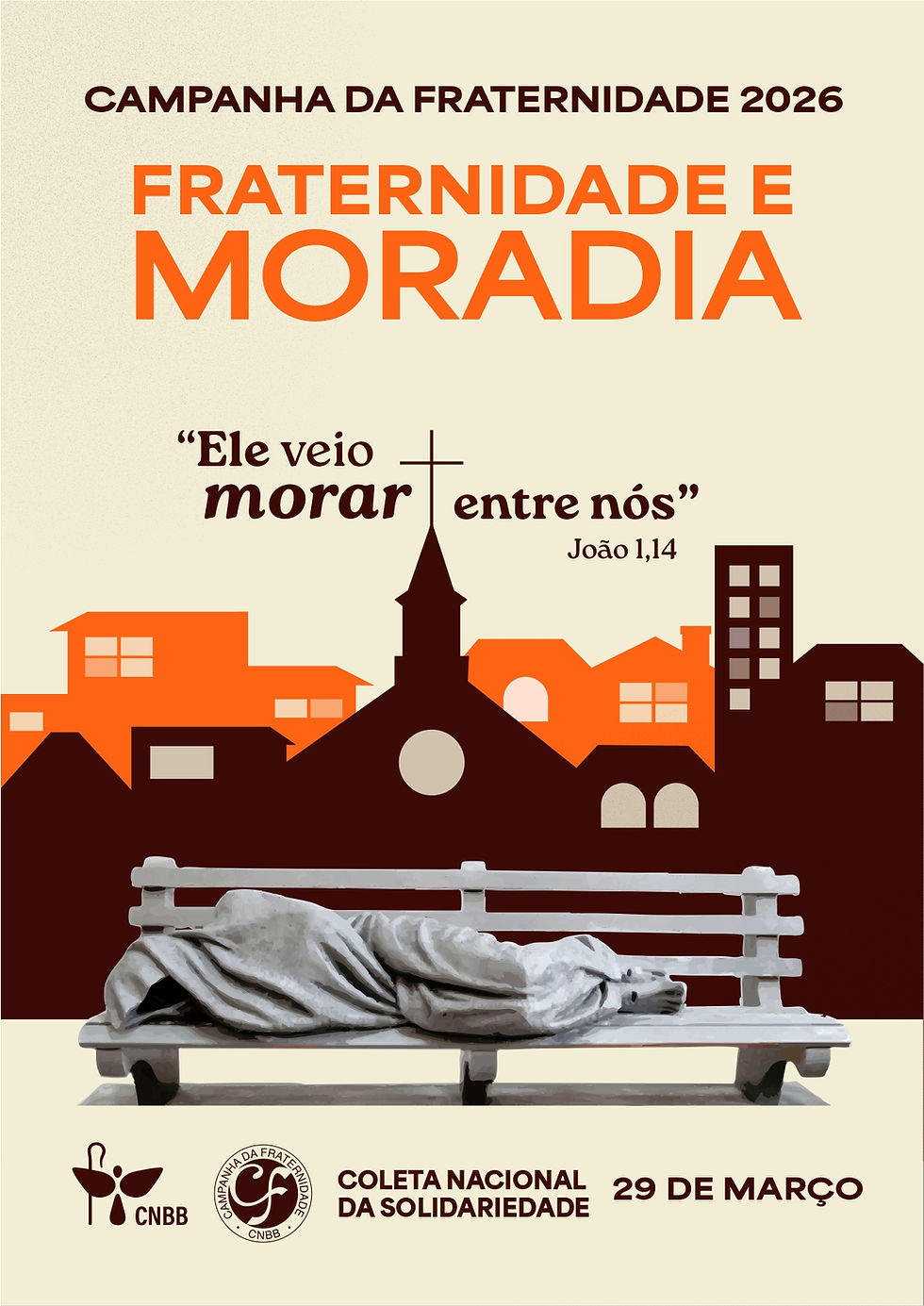ARTIGO - Entre o nome e o gesto – identidade histórica e prática social
- pascom9
- 23 de out. de 2025
- 6 min de leitura
Nominalismo, Realismo e Conceitualismo na Preservação da Identidade Histórica

Por Ir. Vilma Lúcia de Oliveira, FDC
Membro da Congregação das Filha do Amor Divino, Historiadora e Professora, Coordenadora Geral do Arquivo Metropolitano da Arquidiocese de Natal, Membro da Comissão de Cultura e Educação da Arquidiocese de Natal, Coordenadora da Subcomissão de Bens Culturais da Igreja.
“O nome é memória quando carrega o gesto que o originou. Sem isso, é apenas eco.”
Resumo
Este artigo propõe uma reflexão conceitual aplicada sobre o Movimento de Natal, nascido em meio às crises sociais e ambientais do Rio Grande do Norte, compreendendo-o como um fato histórico vivo, pulsante de identidade. Sem a pretensão de esgotar o tema, busca-se entrelaçar filosofia e história para iluminar o modo como o nome de um movimento pode preservar ou perder o gesto que lhe deu origem. A análise parte das tradições filosóficas do nominalismo, realismo e conceitualismo, dialogando com pensadores como Guilherme de Ockham, Pedro Abelardo, Thomas Hobbes, Michel de Certeau, Arnold Toynbee, Paul Ricoeur, Jacques Le Goff, Reinhart Koselleck e Quentin Skinner, distinguindo entre a preservação autêntica da memória histórica e o risco de sua fossilização simbólica. O Movimento de Natal é aqui tratado como um fato histórico vivo não apenas porque aconteceu, mas porque continua a acontecer, sempre que o gesto é retomado.
Introdução
Há nomes que sobrevivem ao tempo como monumentos; outros e como murmúrios. Mas há aqueles que resistem como gestos vivos, encarnados, em movimento. O Movimento de Natal, surgido no calor das urgências sociais e ambientais do Rio Grande do Norte, é um desses gestos que não se deixam arquivar. Mais que um episódio, é uma prática histórica que insiste em existir.
Este artigo propõe uma travessia entre o nome e o gesto, entre o símbolo e o corpo, entre a memória e o risco de sua fossilização. Para isso, parte-se de três correntes filosóficas: nominalismo, realismo e conceitualismo, como lentes para compreender como os nomes se relacionam com o mundo e com os gestos que os fundam.
Mas não se trata apenas de teoria: trata-se de escuta. Escutar o gesto que originou o nome é escutar a história viva. E é nesse fio que seguimos buscando compreender quando o nome respira, e como o gesto se torna memória viva.
Fundamentação Teórica
A história, quando pensada como prática viva, exige mais que cronologia, exige escuta. Escutar o gesto que originou o nome é tarefa filosófica e política. Para isso, este estudo se apoia em três correntes clássicas do pensamento: o nominalismo, o realismo e o conceitualismo, que oferecem caminhos distintos para compreender como os nomes se relacionam com o mundo e com os gestos que os fundam.
O nominalismo, com Guilherme de Ockham, nos alerta que os universais como “movimento”, “memória”, “identidade” não existem fora da linguagem. São nomes, não coisas (Ockham, 1999). O risco, aqui, é que o nome se torne casca: um som que ecoa, mas não encarna.
O realismo, por sua vez, como em Pedro Abelardo, afirma que os universais existem de forma independente, como essências que antecedem os nomes (Abelardo, 2001). Aqui, o nome é mais que signo, é revelação. Mas também há perigo, o de cristalizar o gesto em dogma, de transformar a memória em monumento imóvel.
O conceitualismo, como em Thomas Hobbes, propõe uma síntese: os universais existem, mas apenas como construções mentais (Hobbes, 1983). O nome, então, é ponte — entre o gesto e o pensamento, entre o vivido e o lembrado. É nesse espaço que se abre a possibilidade de uma memória encarnada, que não se limita ao arquivo, mas se realiza no corpo social.
Michel de Certeau amplia essa perspectiva ao tratar a história como prática cotidiana, como gesto que resiste ao esquecimento. Para ele, a memória não é apenas registro, mas movimento, uma forma de caminhar sobre os rastros do passado, reinventando-os no presente (Certeau, 1994; 2002).
Arnold Joseph Toynbee, pensador das eras, foi um historiador britânico cuja obra maior, Um Estudo de História, desdobra-se em 12 volumes como um vasto rio de saber, onde ele contempla o nascimento, o florescer e o ocaso das civilizações sob o olhar abrangente da humanidade. Toynbee nos lembra que civilizações não morrem por falta de força, mas por falta de resposta criativa aos desafios (Toynbee, 1970; 2001). O Movimento de Natal, nesse sentido, é um gesto de resposta — uma tentativa de dizer “sim” à vida em meio à crise, de nomear o presente com coragem. É nesse horizonte de resposta criativa que o gesto ganha densidade histórica. E é justamente esse gesto que faz o nome pulsar.
O Gesto que faz o nome pulsar
O Movimento de Natal não nasceu de um plano, mas de um clamor. Foi resposta — não cálculo. Emergindo no entrelaçamento de crises sociais, ambientais e espirituais no Rio Grande do Norte, ele não se limitou a denunciar: encarnou alternativas. Foi gesto coletivo que ousou nomear o presente com esperança (Silva, 2020; Barros, 2005). Sob a lente do nominalismo, poderíamos dizer que o nome do movimento só tem sentido enquanto houver quem o pronuncie com o corpo. Se ninguém mais o viver, ele se torna apenas som, eco de um passado que não se move. O realismo nos convida a reconhecer que há uma essência no movimento, um núcleo ético e espiritual que o transcende. Mas essa essência só se preserva se for continuamente encarnada.
O conceitualismo histórico oferece um caminho fértil: reconhecer o movimento como conceito vivo, enraizado na experiência e aberto à reinterpretação. Embora não seja uma corrente formalmente sistematizada, essa abordagem tem se afirmado como ponte entre nome e prática, entre passado e presente, entre memória e ação.
Conceitos como “movimento”, “identidade”, “memória”, “solidariedade” não existem como entidades absolutas nem como meros nomes, mas como formas de pensamento enraizadas na experiência histórica. São construídos socialmente, reinterpretados ao longo do tempo e ganham sentido à medida que são vividos, narrados e atualizados — como mostram Paul Ricoeur (2007) e Jacques Le Goff (1990), ao tratar da memória como construção narrativa e cultural.
Reinhart Koselleck (2006), historiador alemão do pós-guerra, destacou-se como um dos fundadores e principais teóricos da história dos conceitos (Begriffsgeschichte), demonstrando que os termos históricos não possuem significados estáveis, mas são continuamente ressignificados pelas práticas sociais e pelos contextos em que emergem. Quentin Skinner (1969), historiador britânico e integrante da Escola de Cambridge, reforça essa perspectiva ao mostrar que os conceitos políticos e históricos devem ser compreendidos em relação aos usos específicos que lhes foram atribuídos em situações concretas. Paul Ricoeur (2007), na filosofia da linguagem e da memória, aprofunda essa abordagem ao afirmar que toda narrativa histórica é uma reinterpretação — e que os conceitos são instrumentos vivos dessa mediação entre passado e presente, entre o que foi vivido e o que pode ser novamente compreendido.
Aplicado ao Movimento de Natal, esse olhar permite compreender o nome “Movimento de Natal” não apenas como símbolo religioso ou referência geográfica, mas como expressão de uma resposta coletiva à exclusão. Preservar sua identidade histórica exige mais do que conservar documentos ou realizar cerimônias: exige de nós reativar o gesto, reinterpretar o sentido à luz dos desafios atuais, mantendo viva a memória como prática, principalmente porque ainda ecoa com vigor.
Conclusão
A História, a memória do Movimento de Natal é mais do que repetir seu nome: é reativar sua força simbólica, recontar suas histórias, reencarnar seus valores, sem cair no arqueologismo. Não é apenas um capítulo da história potiguar: é uma possibilidade contínua de renascimento social, cultural e espiritual. Trata-se de um legítimo fato histórico vivo não apenas porque aconteceu, mas porque continua a acontecer, sempre que o gesto é retomado. E o papel da memória, neste contexto é, não deixar que o nome ecoe vazio, mas que continue carregando o gesto que o originou.
“O gesto é a palavra que o tempo não apagou.É o nome que ainda caminha.É o fato que não se fecha em data,porque continua a acontecer.”
Referências Bibliográficas
ABELARDO, Pedro. Ética. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001.
BARROS, José de Anchieta. Movimento de Natal: uma experiência de evangelização popular. Natal: EDUFRN, 2005.
CERTEAU, Michel de. A Invenção do Cotidiano: 1. Artes de Fazer. Petrópolis: Vozes, 1994.
CERTEAU, Michel de. A Escrita da História. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002.
HOBBES, Thomas. Leviatã. São Paulo: Abril Cultural, 1983.
KOSELLECK, Reinhart. Futuro Passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: Contraponto/PUC-Rio, 2006.
LE GOFF, Jacques. História e Memória. Campinas: Editora da Unicamp, 1990.
OCKHAM, Guilherme de. Tratado sobre os termos. São Paulo: Edições Loyola, 1999.
RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Campinas: Editora da Unicamp, 2007.
SILVA, Maria Vilma da. Movimento de Natal: memória e identidade. Natal: Arquidiocese
SKINNER, Quentin. Visions of Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.TOYNBEE, Arnold. A Study of History. Oxford: Oxford University Press, 1934–1961.VATTIMO, Gianni. O fim da modernidade. São Paulo: Martins Fontes, 1991.